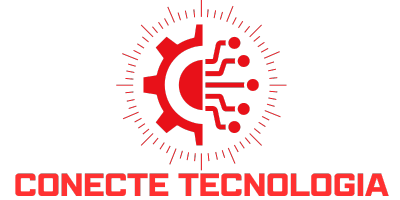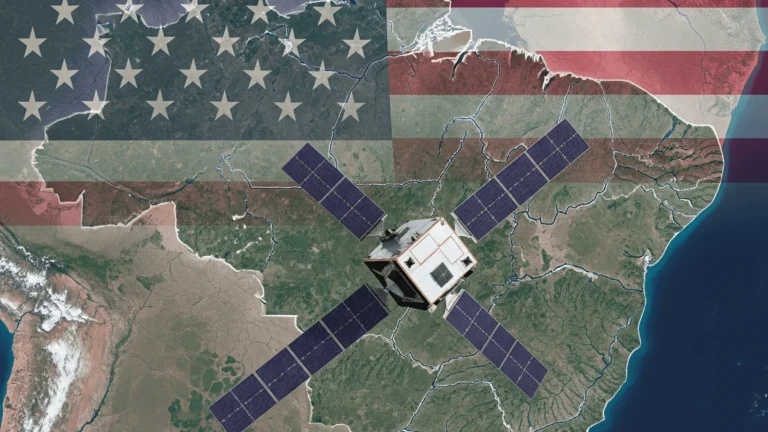GPS e a rede global de navegação
Circulou na última semana a informação de que, em meio a tensões diplomáticas, os Estados Unidos poderiam desligar o sinal do GPS para o Brasil. A hipótese gerou receio de que atividades econômicas essenciais ficassem sem referências de latitude e longitude.
Especialistas apontam, porém, que um bloqueio do GPS deixaria de afetar o país como ocorreria na década de 1990. Hoje, smartphones, veículos e equipamentos nacionais operam lendo sinais de várias constelações de navegação por satélite.
Além do sistema norte-americano, há o russo GLONASS lançado em 1982, o chinês BeiDou de 2000, o europeu Galileo de 2005, o japonês QZSS de 2010 e o indiano NavIC de 2013. A compatibilidade entre esses serviços aumentou a precisão e reduziu a vulnerabilidade a interrupções pontuais.
O histórico mostra que a limitação imposta pelos EUA em 1999, quando um erro aleatório de até 100 metros era introduzido para uso civil, estimulou outros países a investir em alternativas. O pedido da Índia por sinal de maior exatidão, negado naquela ocasião, tornou-se catalisador dessa expansão global.
No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil exige que pilotos dominem a radionavegação por VOR, baseada em estações terrestres de VHF. Esse recurso interno reforça a segurança aérea mesmo se satélites deixarem de enviar dados.
Equipamentos mais antigos, dedicados exclusivamente ao GPS, permanecem em setores como agronegócio, agrimensura e petróleo. Contudo, esses aparelhos podem ser substituídos por modelos recentes que já trazem suporte multiconstelação.
GPS versus vulnerabilidade de software
Enquanto a navegação por satélite dispõe de caminhos alternativos, a dependência brasileira de softwares e serviços norte-americanos é apontada como ponto sensível. Sistemas operacionais, plataformas em nuvem e aplicativos empresariais fabricados nos EUA concentram grande parte da infraestrutura digital local.
Cuba, Irã, Síria, Sudão, Coreia do Norte e Venezuela vivenciam há anos sanções que proíbem o uso de produtos de Dell, Microsoft, Cisco, IBM, Oracle, Amazon, Google e Meta. O precedente mostra que governos de Washington podem, de fato, impedir licenças e atualizações de forma unilateral.
A substituição repentina desses programas por equivalentes de código aberto ou soluções nacionais seria possível, porém custosa. Licenças, migração de dados e treinamento de equipes exigiriam investimentos altos e cronograma apertado.
Na Europa, iniciativas graduais buscam reduzir a exposição a fornecedores norte-americanos, combinando regulamentos e incentivos a centros de dados locais. A China, em ritmo acelerado, desenvolveu arquitetura própria de processadores e sistemas operacionais, assegurando autonomia tecnológica.
Especialistas brasileiros afirmam que o país dispõe de data centers modernos, infraestrutura de telecomunicações e mercado consumidor predisposto a novidades digitais. A lacuna estaria na decisão estratégica de fomentar produtos internos que possam competir em escala global.
Tecnologicamente, não há segredo industrial que torne as big techs dos EUA insubstituíveis. O desafio reside em romper o hábito de optar pelas soluções mais populares e criar políticas que estimulem alternativas domésticas ou regionais.
Diante disso, o debate sobre eventual corte de GPS funciona como alerta, mas não representa o principal risco à atividade econômica. A real vulnerabilidade recai sobre a concentração de software estrangeiro, cuja suspensão imediata teria impacto direto em bancos de dados, redes corporativas e serviços públicos.
Em síntese, o temor de ficar sem sinal de satélite repete um cenário ultrapassado; já a dependência de plataformas digitais norte-americanas permanece atual. Reconhecer essa diferença é passo essencial para que a soberania brasileira avance também no campo tecnológico.